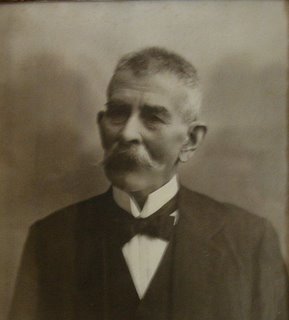sexta-feira, setembro 22, 2006
AS PALAVRAS DIZEM AS COISAS

ESBOÇO PARA UMA POESIA INICIAL

quinta-feira, setembro 21, 2006
ESBOÇO PARA UMA POESIA INICIAL
segunda-feira, setembro 18, 2006
COMPRAZIMENTO DO VER

 Margarida Cepêda: «Efêmero e Permanente»
Margarida Cepêda: «Efêmero e Permanente»AS VOZES ENGANADORAS OU A RELIGIÃO DA MENTIRA
 Öyvind Fahlström
Öyvind Fahlströmdomingo, setembro 17, 2006
AS DIFÍCEIS ESPERANÇAS DO «SOL»

sexta-feira, setembro 15, 2006
UM HOMEM DE REFERÊNCIA, HOMENAGEM NO LIMITE
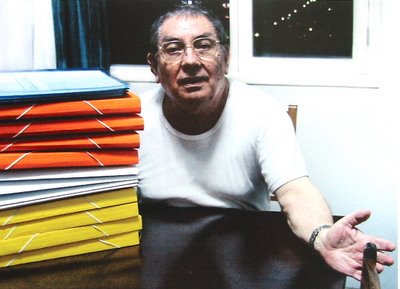
quinta-feira, setembro 07, 2006
terça-feira, setembro 05, 2006
A MÃO DE FERRO


Percebi tarde o desamparo
de haver esquecido em casa
esse entrave,
segredo para cada retorno
ao esconderijo
de todas as urgências.
que substitui a mão de ferro
e o seu batimento
por cada volta de quem chega
ao lugar multiplicável,
entre o sofá e a sua negação.
Eu sabia o que significa
ficar preso na rua,
sob a luz crua,
impedido sem prazo
de refazer o esconderijo
onde inventamos
o encantamento
de quando nos entregamos,
descalçando os sapatos,
ao prazer morno da lassidão
e às memórias
de todas as histórias inteiramente lá fora.
Cá fora estou,
horas a fio, enfim,
que o dia levou tempo para o entardecer
a fim da noite tecer
e as luzes dos outros tardiamente,
pobre gente em todo o caso chegando a casa,
contempoprânea da última viagem
do último eléctrico rangente, atroador e plangente.
Comecei então a atravessar a cidade com o fim de alcançar a casa de meu avô.
Uma noite de sono em caridade.
A mão de ferro da porta dele é velha, pintada de prata e ainda grata no seu bater já espalmado, de lata.
E agora a mão de carne empurra o ferro da mão prateada, quase sem tinta e amolgada,
barulho inquietante, parece enorne no silêncio restante.
Se o avô morreu não sei, nem sei se o levaram para qualquer outro lugar ou fim.
Sei, isso sim, que me tornei de súbito vagabundo, neste compacto cimento do mundo.
Sem-abrigo, impensavelmente antigo, enrolado sob a mão de ferro pendurada:
Espécie de vida amargurada
e os meus olhos a sangrar mais tarde já no emergir da madrugada.